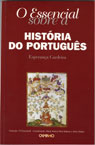
ÍNDICE
O Português não europeu: as novas normas (excerto)
Actualmente, os linguistas brasileiros defendem a especificidade de uma norma diversa da europeia mas parte integrante da língua portuguesa.
Podemos, portanto, distinguir duas gramáticas diacrónicas do Português no Brasil: uma primeira, dos séculos XVI-XVII, com forte ligação a Portugal, tendendo para a diferenciação regional, reflecte um Brasil rural, de ensino jesuítico; a partir de meados do século XVIII, contudo, o crescimento urbano, o ensino oficial, a imprensa e a independência criam condições para que, por um lado, a língua da colonização se torne hegemónica e, por outro, se fixe uma nova gramática que acolhe inovações e que adquire personalidade própria, configurando uma nova norma para o Português.
Naturalmente, esta norma reflecte o cruzamento de povos e culturas que moldou a história do Brasil. No léxico abundam as influências ameríndias, especialmente na toponímia (Guanabara, Tijuca) e nos campos da fauna e da flora: piranha, urubu, mandioca, abacaxi, maracujá, caju, jacarandá, para referir apenas vocábulos que viajaram até Portugal, entre tantos outros só conhecidos no Brasil. Os africanismos (senzala, samba, moleque) integraram a língua comum; as comidas brasileiras (vatapá, moqueca), a religião (Orixá, Oxalá) têm designações que evocam um ambiente de plantações de cana-de-açúcar, em que as escravas africanas
trabalhavam na ‘casa grande’.
Quando comparamos o léxico brasileiro com o do Português europeu notamos não só o enriquecimento que aquele sofreu como resultado do contacto da língua com outras culturas mas também os arcaísmos: vocábulos que, em Portugal, caíram em desuso são ainda correntes no Brasil (salvar ‘saudar’, função ‘festa’).
E não só no léxico poderemos encontrar testemunhos vivos de um Português que já não falamos. A colocação dos pronomes átonos, com preferência pela próclise (ele me disse), era regra no Português do século XVI. Na fonologia, a menor elevação e centralização das vogais átonas espelha um período em que essa mudança ainda não se processara em Portugal (veja-se, por exemplo, como em palavra p[a]lavra o Brasil conserva a vogal que, em Portugal, sofreu evolução: p[ɐ]lavra). O ritmo
alternado que resulta na entoação que tanto nos encanta é, aliás, produto da
conservação das vogais átonas. E a sibilante dental lá está (feliz feli[s] a
testemunhar o estádio anterior à palatalização que se operou no Português
europeu
(feli[ʃ
Num cenário de cruzamento de tantas etnias e culturas, o Português ganhou, no
Brasil, uma personalidade própria. Uma cultura tão variada produziu uma
apetência para a inovação. Quando, agora, comparamos o Português europeu com o
brasileiro, notamos mudanças fonológicas como a semivocalização da lateral em
contexto final de sílaba ou palavra (salto sa[w)to, animal animal[w]), a
supressão ou reforço da vibrante final (amor am[o] ou amo[R]) ou a palatalização
das consoantes dentais antes de elemento vocálico palatal (tia [t[ʃ
E traços conservadores originaram inovações: a articulação dental da sibilante
final desenvolveu uma semivogal palatal (realizando-se da mesma forma mas e mais [majs]; a
preferência pela estrutura silábica consoante +vogal causou a introdução de uma
vogal que desfaz grupos consonânticos (psicologia p[i]sicologia).
O Português do Brasil, na sua aparente homogeneidade é, tal como o Português Europeu, um diassistema, com variação diatópica (a um conjunto de variedades do Norte, com vogais pretónicas abertas — dezembro d[ɛ]zembro, morar m [ #]rar — e nasalação vocálica antes de consoante nasal — chamar ch[ɐ̃]mar —, opõem-se as variedades do Sul) mas, principalmente, com variação diastrática. Nas cidades, o falar do brasileiro culto distingue-se da língua das camadas menos instruídas. No século XX, a urbanização, o crescimento económico e a explosão demográfica criaram um fosso profundo entre megalópoles e regiões subdesenvolvidas e entre as diferentes camadas sócio-culturais, fosso que é, também, linguístico. Assim, da linguagem popular fazem parte a simplificação da flexão nominal (os meníno, meus amigo) e verbal (eu sou, tu é, e/e é, nós é, eles é). Traços que são diastraticamente marcados (não aceites pela norma) são, também, o tratamento dado à lateral palatal, com despalatalização (mulher [mulɛ]) ou substituição pela semivogal ([mujɛ] ou pela vibrante (flamengo f[r]amengo).
A
partir da sua implantação no Brasil, a língua portuguesa evoluiu de forma nem sempre coincidente nos dois países. Cabe, aqui, perguntar: o Português europeu e o Português do Brasil ainda são a mesma língua? A essa questão tem o povo brasileiro respondido afirmativamente.
No futuro — quem
sabe? — poderá reclamar para si uma língua a que chamará Brasileiro. Presentemente, podemos afirmar a existência de duas
normas autónomas. Mas é curioso observar como, após um período de afastamento,
se verifica, actualmente, uma aproximação entre ambas, resultante da
importância da televisão e da crecente comunidade brasileira em Portugal.
Está actualmente em curso a elaboração de um Atlas Linguístico do Brasil (AliB), que visa delimitar e caracterizar os dialectos regionais brasileiros.
Encontram-se informações sobre estes projectos em
www.letras.ufrj.br/nurc-rj
www.alib.ufba.br